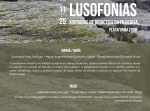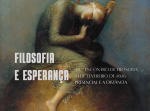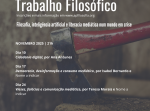39.º ENCONTRO DE FILOSOFIA | FILOSOFIA E CONFLITO
A Apf – Associação de Professores de Filosofia organiza o 39.º Encontro de Filosofia, sob o tema Filosofia e Conflito, a decorrer no dia 8 de março de 2025, em formato híbrido.
Organizado em torno de dois eixos, o Consenso e a Hospitalidade, neste Encontro pretende-se refletir em que medida a filosofia nos pode trazer representações capazes de superar o dissenso e de acolher o diferente num mundo polarizado e perpassado por conflitos assentes na erosão do outro.
As conferências e os debates presenciais do Encontro decorrem na Casa Municipal da Cultura de Coimbra e por videoconferência, através da plataforma Zoom.
PROGRAMA – Dia 8 de março de 2025
09h00 Receção dos participantes (presencial)
09h20 Palavra de boas-vindas
09h30 Conferência de abertura l Filosofia e Conflito: a filosofia entre consenso, agonismo e dissenso, por Alexandre Franco de Sá (FLUC)
10h15 Intervalo
10h45 Mesa-redonda 1: Dissenso/Consenso
Da legitimidade do conflito à necessidade de consensos, por António Rocha Martins (FLUL)
Como resolver racionalmente desacordos profundos? Uma proposta baseada na epistemologia de Crispin Wright, por Domingos Faria (FLUP)
Luís Veríssimo (Colégio dos Carvalhos)
13h15 Almoço
15h15 Mesa-redonda 2: Estranho/Hospitalidade
A Hermenêutica da Hospitalidade de Richard Kearney, por Gonçalo Marcelo (FLUC)
O acolhimento do Outro: uma abordagem hermenêutica à filosofia do asilo, por Gabriele De Angelis (IFILNOVA, Universidade NOVA de Lisboa)
16h45 Conferência de encerramento l GUERRA DE TODOS CONTRA TODOS: Como a Utopia da Universalidade Desaguou na Distopia do Niilismo, por Viriato Soromenho-Marques (FLUL)
17h30 Encerramento dos trabalhos
18h00 Assembleia Geral da Apf
DESTINATÁRIOS
Docentes, estudantes, interessados em geral
PREÇÁRIO
Associados com quotas em dia: 45€
Não Associados: 65€
Estudantes, com comprovativo de matrícula: 10€
Aposentados: 20€
Certificação
Formação acreditada na modalidade de Formação de Curta Duração, com a duração de 6h, em parceria com o Cefop.Conimbriga – Centro de Formação de Professores. Ação destinada a docentes de todos os grupos disciplinares, releva para efeitos de progressão na carreira docente. Os inscritos que solicitarem certificado com acreditação receberão, no endereço eletrónico registado na inscrição, o certificado de formação, após cumprimento dos requisitos legais.
O certificado de participação no Encontro, independentemente do formato (presencial ou digital), será disponibilizado aos inscritos (entrega presencial ou por via postal).
CONFERENCISTAS
Alexandre Franco de Sá é Professor Auxiliar do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Coordenador do Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário da mesma faculdade, é Doutor em Filosofia, na especialidade de Filosofia Moderna e Contemporânea, pela Universidade de Coimbra. É Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasil. Autor de mais de quatro dezenas de artigos publicados em revistas e cerca de três dezenas e meia de capítulos de livros, para além de vários trabalhos em atas de eventos. Orientador de inúmeras dissertações de mestrado e teses de doutoramento, júri de graus académicos, organizador/coorganizador de vários seminários, congressos e encontros, já participou, como conferencista, em inúmeros eventos, em Portugal e no Brasil. Foi Presidente da Direção da Associação de Professores de Filosofia durante uma década (2006-2016). Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica, é membro da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa.
Filosofia e Conflito: a filosofia entre consenso, agonismo e dissenso
A filosofia nasce de uma relação primordial com o conflito. Na sua origem, essa relação expressa-se no diálogo socrático, o qual pressupõe o papel do filósofo como a personagem que, desafiando as opiniões estabelecidas, exerce a persuasão. A persuasão pressupõe, no entanto, afinidades fundamentais como condições subjacentes ao diálogo. Quando estas afinidades estão ausentes, a relação da filosofia com o conflito traduz-se em três atitudes fundamentais: a exigência de um consenso, o cultivo do agonismo e o prazer do dissenso. A presente comunicação procurará caracterizar estas três atitudes.
António Rocha Martins é Doutor em Filosofia (Filosofia Medieval), pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (2009). Membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa (CFUL) e de várias associações científicas. Bolseiro de Pós-Doutoramento (2015-2018). Algumas publicações: “The Secretum secretorum and the Idea of Political Happiness in the Latin Middle Ages” (Brepols, 2023, 53-84); “Medieval metamorphoses of ‘Nicomachean ethics’: singular case of Thomas Aquinas” (St. Petersburg-Pskov, 2021, 103-138); “Neoplatonismo Político Medieval: Receção de Proclo” (Philosophica, 29, 9-31); “Receção do Neoplatonismo em Pierre Hadot” (Philosophica, 29, 145-161); “Os nomes divinos — Boaventura e Dionísio Areopagita (a propósito de I Sent., d. 22, a. un., qs. 1-4; I 390a-399b” (Scintilla, 18, 75-86); “Escatologia e Utopia – Mediação da justiça em Agostinho de Hipona e Thomas More” (Universidade de Coimbra, 2021, 41-58); “Ius et Iustitia. The Idea of Justice in Augustine of Hippo’s De Civitate Dei” (Documenta, 2019, 105-129); “The zoon politikon: Medieval Aristotelian interpretations” (RPF, 75, 1539-1574).
Da legitimidade do conflito à necessidade de consensos
A. Touraine, sociólogo contemporâneo, formula como «quadratura do século» a questão que intitula sugestivamente uma das suas últimas obras, «Iguais e diferentes, poderemos viver juntos?» (1997): dilema simultaneamente político e social, cultural e moral, escolar e profissional – cuja solução se apresenta como a única viabilização de um futuro em que continuemos presentes.
Na nossa intervenção articularemos três momentos reflexivos: insuficiência da educação para a cidadania (eliminação do foro individual e formalização da relação ontológica aos outros); importância dos direitos individuais (riscos e vantagens); contributo da Filosofia (primado do logos).
Tentaremos mostrar que dissenso e consenso são recíproca e diversamente indispensáveis para a coexistência das liberdades na constituição de um todo social que consinta a diferença e a autonomia dos seus membros. «Viver juntos» não significa viver da mesma forma ou pensar o mesmo. Mas não poderemos viver juntos sem um interesse comum (inter-homines-esse).
Domingos Faria é Professor Auxiliar de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Diretor do Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário. As suas principais áreas de investigação são epistemologia social, epistemologia da educação e filosofia da religião. O seu currículo e as suas publicações científicas estão disponíveis no website: https://dfaria.eu
Como resolver racionalmente desacordos profundos? Uma proposta baseada na epistemologia de Crispin Wright
Muitos dos desacordos do nosso quotidiano, por exemplo, sobre o aborto, a eutanásia, a vacinação, a existência de Deus, etc, são desacordos profundos, dado que consistem em desacordos sistemáticos assentes em visões do mundo opostas. De acordo com Wittgenstein (1969), esses desacordos são sobre compromissos “hinge”, ou seja, são desacordos sobre pressupostos de base das nossas visões de mundo que são essenciais para as nossas vidas cognitivas. Dessa forma, dois sujeitos, S1 e S2, discordam profundamente sobre se P só se S1 e S2 discordam sobre P e o seu desacordo sobre P os compromete a discordar sobre um compromisso “hinge” H. Ora, o desacordo é “profundo” na medida em que há um confronto ou conflito entre dois compromissos “hinge”. Mas haverá resolução racional para tais desacordos profundos? Apesar do pessimismo de Wittgenstein (1969), argumentaremos que a resposta será positiva caso se entenda os compromissos “hinge” de forma epistémica. Nomeadamente, seguindo a interpretação epistémica de Wright (2014), há por omissão um direito epistémico para se aceitar compromissos “hinge”. Contudo, defenderemos que em algumas circunstâncias de desacordo profundo, em que há aquisição de derrotadores, esse direito epistémico é revogado e pelo menos uma das partes terá de conciliar ou suspender o juízo.
Gabriele De Angelis doutorou-se na Sant’Anna School of Advanced Studies, em Pisa, Itália, em 2003, depois de terminar uma “Grundständige Promotion” na Ruprecht-Karls-Universität de Heidelberg, Alemanha, em 1999. É um investigador em teoria política e ética aplicada, membro integrado do Instituto de Filosofia da NOVA, coordenador do OutLab (https://ifilnova.pt/en/ laboratories/outlab/ ) e do NOVA Asy lum Pol icy L a b (https://novaasylumpolicylab.com). A sua investigação é dedicada aos bens públicos europeus, e especialmente à governança económica da União Económica e Monetária da União Europeia e às problemáticas do asilo no contexto europeu, que aborda num sentido normativo, quer em relação à legitimidade das relativas instituições, quer em relação à ética subjacente às relações de cooperação (ou de conflito) continental e internacional que caracterizam o fenómeno económico e o fenómeno migratório.
O acolhimento do Outro: uma abordagem hermenêutica à filosofia do asilo
Um hiato singular caracteriza a filosofia contemporânea: enquanto a teorização do problema do relacionamento com o “outro” é quase exclusivamente apanágio da tradição continental, o tema das migrações e do asilo, enquanto abordagem da filosofia dita “aplicada”, é quase inteiramente tratado no âmbito da tradição analítica. Com a sua ênfase na obrigação moral, esta última procura identificar os direitos e os deveres que estados e sociedades têm perante migrantes e refugiados, e vice-versa. Os temas da alteridade, do reconhecimento, e da comunicação através das diferenças são-lhe, todavia, estranhos. Por outro lado, a tradição continental trata, sim, destes temas, mas sem os colocar na concretude do problema específico da presença de cidadãos estrangeiros (salvo poucas notáveis exceções, como por exemplo as anotações de Hannah Arendt sobre o asilo). Com isso, a tradição analítica identifica “direitos formais” (ou “abstratos”, na linguagem hegeliana), sem se perguntar se isso satisfaz de facto os ideais de liberdade e igualdade que ela pretende alcançar. Por outro lado, a tradição continental teoriza, do ponto de vista de “escolas” e abordagens filosóficas diferentes, um conjunto de relações (bem sucedidas ou falhadas que sejam) de reconhecimento, de comunicação, de “hospitalidade”, que resultam igualmente abstratas, na medida em que não incluem a especificidade de questões que se colocam em contextos históricos e sociais específicos. A presente comunicação pretende sugerir uma metodologia que consiga ultrapassar o estágio da (diferente) abstração das duas tradições através de uma abordagem ao problema específico da alteridade da pessoa refugiada, uma abordagem que assenta na hermenêutica filosófica gadameriana, aproveitando também algumas intuições provenientes de abordagens feministas que foram desenvolvidas no âmbito da antropologia.
Gonçalo Marcelo é doutorado em Filosofia Moral e Política pela FCSH da Universidade Nova de Lisboa (2014). Foi investigador visitante em Paris (Fonds Ricoeur), Lovaina (Université Catholique de Louvain) e Nova Iorque (Columbia University). Atualmente, é Professor Convidado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e na Católica Porto Business School. É investigador integrado e membro do Conselho Executivo do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH) da Universidade de Coimbra e colunista d’O Jornal Económico. Os seus principais interesses e publicações são nas áreas da filosofia social e política, ética, hermenêutica e teoria crítica.
A Hermenêutica da Hospitalidade de Richard Kearney
No âmbito de uma conferência que explora a centralidade da noção de conflito para a filosofia, esta comunicação aborda a tensão entre as duas possibilidades primárias de resposta perante o encontro com a alteridade: a hostilidade ou a hospitalidade. É sabido como, etimologicamente, estes conceitos estão intrinsecamente ligados, e como a resposta à injunção de acolhimento do estranho ou do estrangeiro tem por vezes de ser conquistada perante a maior probabilidade de ocorrência de hostilidade.
Neste pano de fundo, a comunicação apresenta uma filosofia da hospitalidade, a do filósofo irlandês Richard Kearney, e que se apresenta como uma hermenêutica da hospitalidade, fortemente influenciada por Paul Ricœur. Como se verá, esta filosofia tem a vantagem de apresentar não só uma fundamentação teórica da possibilidade de passagem da hostilidade à hospitalidade em contextos difíceis, e cuja chave reside na imaginação narrativa, como também uma vocação prática de aplicação, sendo posta à prova por Kearney, sobretudo no âmbito de um dos projetos que dirige, o Guestbook Project.
Luís Veríssimo é doutorado em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Investigador do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Publicou artigos de Filosofia em revistas internacionais de especialidade. É autor de manuais escolares do Ensino Secundário das disciplinas de Filosofia e Psicologia, bem como de materiais didáticos. Leciona cursos de formação em Lógica, Ética, Metafísica e Filosofia da Religião.
A guerra pode ser entendida como um conflito armado entre duas comunidades políticas.
Através da sua analogia doméstica, Michael Walzer considera que um grupo político tem uma justificação para o recurso à guerra, se e só se, esta consiste numa resposta proporcional e necessária a uma agressão injustificada à sua integridade e independência. Assim, a sua abordagem foca-se na ação coletiva dos estados numa espécie da sociedade internacional. Tal como os indivíduos estão sujeitos ao respeito pelos direitos e liberdade uns dos outros, também os estados devem respeitar a autonomia e a independência uns dos outros. Esta abordagem coletivista faz a responsabilidade pela jus ad bellum recair sobre os estados, e não sobre os soldados individuais (sobre os quais apenas recai a responsabilidade pela jus in bello). Por outro lado, Jeff McMahan defende que os únicos alvos legítimos no contexto de uma guerra são, em continuidade com o que acontece na sociedade civil, aqueles que, por terem iniciado (ou serem responsáveis pela manutenção) de uma agressão injustificada, abriram mão do seu direito à não-agressão. Assim, McMahan não fala de uma analogia entre estados e indivíduos, antes pelo contrário defende a existência de uma continuidade entre a moralidade comum e a moralidade da guerra. Trata-se de uma abordagem reducionista da moralidade da guerra, segundo a qual os estados não são mais do que a soma dos indivíduos que os compõem e a guerra é vista como um somatório de atos individuais. Assim sendo, quer a responsabilidade pela jus ad bellum, quer a responsabilidade pela jus in bello, recai sobre soldados individuais.
A meu ver, ao fazer a responsabilidade pela guerra recair apenas sobre os estados, enquanto agentes coletivos, a abordagem coletivista de Walzer enfrenta o seguinte problema: mesmo que estejamos dispostos a admitir a existência de agentes coletivos, a abordagem de Walzer parece isentar os indivíduos singulares de toda e qualquer responsabilidade pela participação numa guerra injusta, o que significa que não permite fazer uma distribuição da responsabilidade entre o estado, enquanto agente coletivo, e cada um dos seus membros. Distribuição essa que deve ser proporcional ao grau de envolvimento de cada um. No entanto, ao fazer a responsabilidade pela guerra recair sobre os soldados individuais, a abordagem reducionista de McMahan fica sem recursos para responsabilizar os estados que, devido a falhas na sua organização e autorregulação, conduziram à existência de uma guerra injusta.
Deste modo, julgo que devemos procurar uma terceira via, que permita conciliar responsabilidade coletiva e individual, no que diz respeito à avaliação moral do recurso às armas para fins políticos.
Viriato Soromenho-Marques (n. 1957) é filósofo, professor catedrático de Filosofia da Universidade de Lisboa (aposentado), sócio efetivo da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia de Marinha. Conselheiro especial da Fundação Oceano Azul e presidente da Assembleia Geral da ONG Common Home of Humanity.
Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (2006). Prémio Personalidade de 2014, pela Fundação Portuguesa do Pulmão. Prémio «Leaders of the Decade inSustainable Development» atribuído pelo Women Economic Forum, em 2019.
Desde 1978 ligado às causas do combate à crise ambiental e climática, da paz com justiça e dos direitos humanos, tanto em Portugal como na Europa e na esfera global. Sobre esses domínios, onde se incluem também estudos sobre federalismo norte-americano e construção europeia, é autor de uma vasta bibliografia, assim como de um diversificado e longo percurso internacional como conferencista.
Para mais informações consultar Webpage: www.viriatosoromenho-marques.com
GUERRA DE TODOS CONTRA TODOS: Como a Utopia da Universalidade Desaguou na Distopia do Niilismo
“Se nós não fizermos da morte de Deus uma grandiosa renúncia e uma perpétua vitória sobre nós próprios, então teremos de suportar a sua perda.”
(Wenn wir nicht aus dem Tode Gottes eine grossartige Entsagung und eine fortwährenden Sieg über uns machen, so haben wir den Verlust zu tragen) NF, KS, vol. 9, 12[9}, 577 [Outono 1881].
O niilismo nunca foi uma realidade fácil de compreender, e ainda menos de projetar em cenários de futuro. A “morte de Deus”, diagnosticada em primeiro lugar por Heinrich Heine (1834), foi, depois, aprofundada por Nietzsche como encruzilhada entre dois caminhos opostos: por um lado, o de uma humanidade capaz de aceitar a responsabilidade do futuro sem garantias metafísicas de redenção para as incertezas abissais da condição humana; por outro, o cenário que acabou por triunfar, antecipado no “O Crepúsculo dos ídolos”(Die Götzendämmerung, 1889), a fragmentação e tribalização da humanidade no sacrifício junto dos numerosos substitutos da divindade perdida (Estado, nação, economia, ciência, nos diversos modos de poder e dominação…). Hoje, se tivermos lucidez suficiente, olharemos para o mundo contemporâneo como a época filosófica absoluta: aquela em que as ideias da Modernidade (na política, na economia e na tecnociência) se encontram em processo de realização por exaustão e esgotamento. Um tempo de distopia e desmesura, que transforma a planetária morada comum dos humanos num hostil campo de batalha, aparentemente, sem promessa de reconciliação, ou mesmo de tréguas.
Related Posts
Comments are closed.